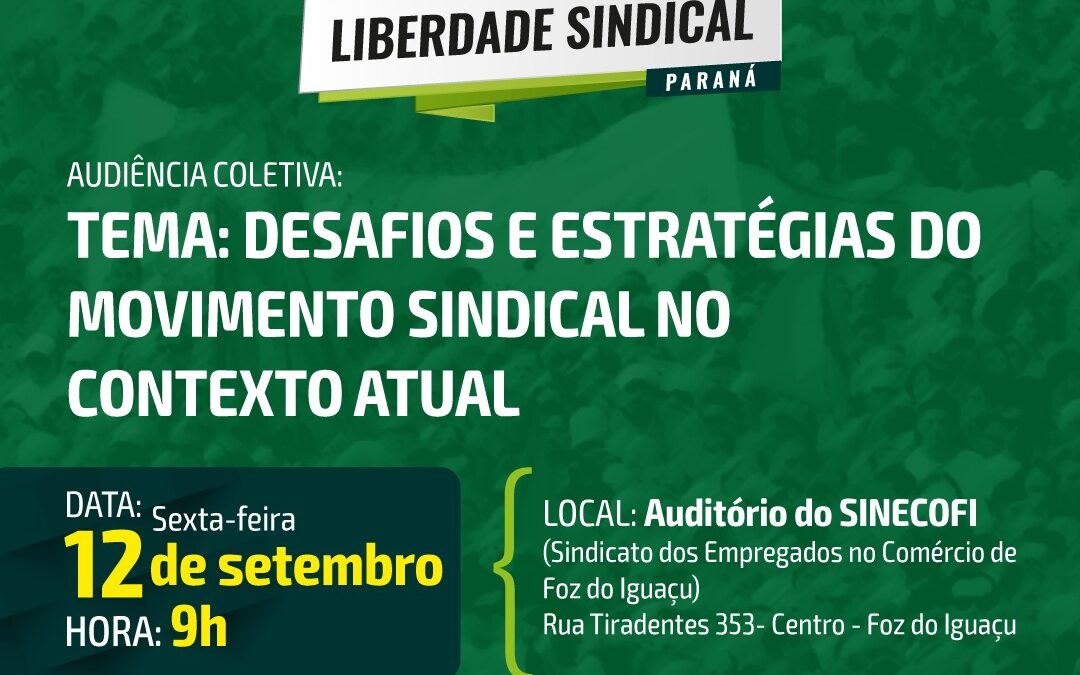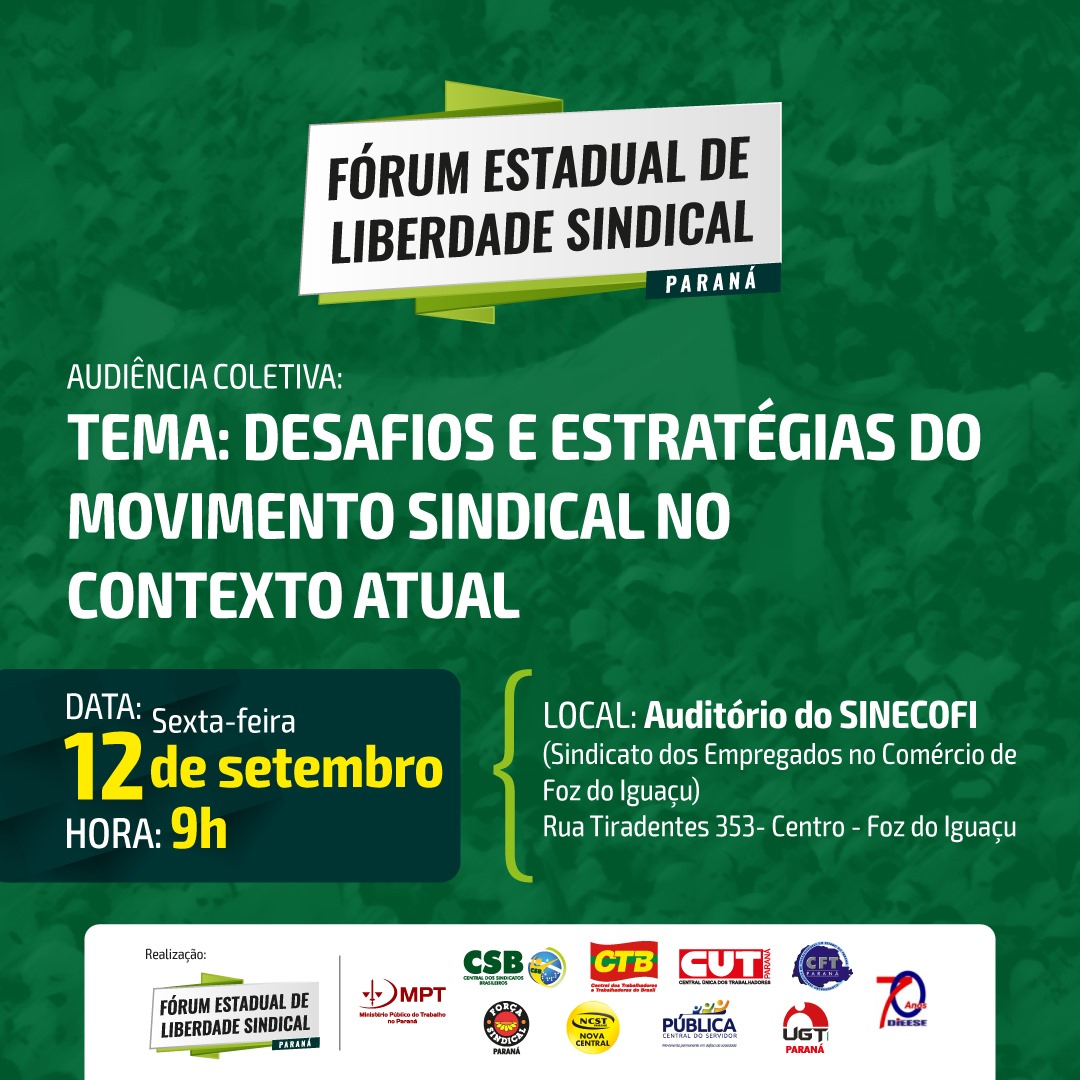por NCSTPR | 10/09/25 | Ultimas Notícias
O ambiente de trabalho contemporâneo, moldado pela lógica incessante do capitalismo, tem se revelado um espaço cada vez mais inóspito para a saúde física e mental dos trabalhadores. A máxima de otimização de recursos e maximização de lucros, pilar da gestão capitalista, frequentemente se traduz em uma precarização das condições laborais que ultrapassa o mero desconforto, tornando-se um vetor de adoecimento e, em casos extremos, de morte.
O sistema de produção capitalista, orientado pela maximização da eficiência e da lucratividade, produz de forma sistemática ambientes laborais marcados pelo assédio moral, pela incidência crescente da Síndrome de Burnout e por um número alarmante de acidentes de trabalho. Esses fenômenos não podem ser compreendidos como fatalidades ou desvios pontuais, mas sim como efeitos diretos e previsíveis de uma racionalidade gerencial que subordina a vida humana aos imperativos do lucro. Trata-se de uma lógica estrutural que transforma o sofrimento em ferramenta de controle e gestão.
A tríade do adoecimento laboral: Assédio, Burnout e acidentes
Para compreender a profundidade do problema, é fundamental conceituar os três pilares que sustentam a degradação da saúde do trabalhador no contexto atual.
O assédio moral no trabalho manifesta-se através de ações, gestos, palavras e comportamentos que visam humilhar, constranger e desqualificar o indivíduo, deteriorando o ambiente laboral. A imposição de metas inatingíveis, a atribuição de tarefas excessivas, o tratamento agressivo e preconceituoso são práticas que, ao agredirem psicológica e fisicamente o trabalhador, configuram uma violência sutil, porém devastadora.
Este assédio pode ocorrer de forma individual, mas também se apresenta de maneira coletiva ou difusa, quando a própria cultura organizacional da empresa se baseia em uma “gestão por exaustão”, normalizando a pressão e o sofrimento como ferramentas para extrair maior produtividade.
A análise de Ricardo Antunes (2018) sobre a “pejotização” e a “uberização” do trabalho revela como essas novas modalidades de exploração transferem para o trabalhador não apenas os riscos da atividade econômica, mas também a responsabilização por seu próprio adoecimento.
Diretamente ligada ao assédio, a Síndrome de Burnout representa o colapso, o esgotamento físico e psíquico resultante da exposição contínua a altos níveis de estresse no trabalho. Reconhecida como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a síndrome é a resposta do corpo e da mente a um ambiente de exigências desmedidas, onde o trabalhador não consegue mais lidar com o peso da pressão. É o ponto em que a energia vital se esvai, deixando um rastro de exaustão, cinismo e ineficácia profissional.
Completando a tríade, os acidentes de trabalho emergem como uma consequência quase inevitável de um ambiente precarizado. Um trabalhador física e psicologicamente esgotado, com sua atenção e capacidade de reação diminuídas, torna-se exponencialmente mais vulnerável a acidentes, mesmo em funções consideradas de baixo risco. A fadiga crônica, a ansiedade e a depressão, sintomas comuns do assédio e do Burnout, criam o cenário perfeito para a ocorrência de falhas que podem resultar em lesões graves ou fatais. A negligência com normas de segurança, frequentemente justificada pela redução de custos, agrava ainda mais este quadro, expondo a crua realidade de que, na lógica do capital, a segurança do trabalhador é um custo a ser minimizado.
A radiografia dos fatos: privatizando lucros, socializando custos
Os números revelam uma realidade alarmante e inegável. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos, com 472 mil casos, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Dados indicam que 46% dos brasileiros sentem estresse diariamente e o país é o quarto com mais trabalhadores estressados na América Latina. Cerca de 30% das trabalhadoras brasileiras sofrem com a Síndrome de Burnout. A ansiedade e a depressão lideram os motivos de afastamento, com mais de 140 mil e 113 mil casos, respectivamente.
Este cenário expõe uma das facetas mais perversas do sistema que Antunes (2018) denomina “sociabilidade da barbárie”. Segundo o autor, “o capital financeiro mundializado encontrou no trabalho flexibilizado e precarizado a forma de transferir seus custos e riscos para a classe trabalhadora” [1]. A empresa privada apropria-se da força de trabalho e da energia vital do indivíduo e, uma vez que este adoece, o devolve para a sociedade, transferindo os custos de seu tratamento e recuperação para o Estado.
É o sistema público, financiado por toda a coletividade, que arca com os pagamentos de auxílios e tratamentos, enquanto a gestão privada que originou a doença se isenta de responsabilidade. Como observa Antunes, “privatizam-se os lucros e socializam-se os prejuízos, numa clara demonstração de como o capital parasita a sociedade” [1]. O capitalismo, portanto, não apenas produz doentes, mas socializa os prejuízos de sua lógica predatória.
No que tange aos acidentes fatais, os dados são igualmente sombrios. Entre 2012 e 2024, foram registrados 8,8 milhões de acidentes de trabalho, com 32 mil mortes apenas no mercado formal. Em 2024, foram 742 mil acidentes e 2.400 mortes, o que equivale a um acidente a cada 43 segundos. Setores como transporte rodoviário, supermercados, hospitais e construção civil lideram as estatísticas, evidenciando o descumprimento deliberado de normas regulamentadoras em nome da redução de custos. Até mesmo os mais jovens são vitimados: mais de 32 mil acidentes envolveram jovens de 14 a 17 anos no mesmo período, revelando um sistema que mói vidas indiscriminadamente.
Antunes (2018) alerta para o fato de que “a precarização estrutural do trabalho se tornou a regra, não a exceção, configurando um verdadeiro processo de desumanização que atinge todas as dimensões da vida social” [1]. Os dados brasileiros confirmam essa análise, revelando como a lógica do capital transforma corpos e mentes em recursos descartáveis.
A captura da subjetividade e a gestão do sofrimento
Um aspecto fundamental destacado por Antunes (2018) é como o capitalismo contemporâneo desenvolveu mecanismos sofisticados de “captura da subjetividade operária”. Segundo o autor, “o capital busca apropriar-se não apenas da força física do trabalhador, mas também de sua dimensão intelectual, cognitiva, emocional” [1]. Essa captura se manifesta através de discursos empresariais que responsabilizam o trabalhador por seu próprio bem-estar, transformando o sofrimento em uma questão de “gestão pessoal” ou “falta de resiliência”.
A proliferação de programas de “qualidade de vida” nas empresas, muitas vezes, funciona como uma cortina de fumaça que oculta as verdadeiras causas estruturais do adoecimento. Como observa Antunes, “enquanto se multiplicam os discursos sobre sustentabilidade e responsabilidade social, intensifica-se a exploração e precarização do trabalho vivo” [1]. Essa contradição revela a natureza ideológica de tais iniciativas, que buscam mais administrar o sofrimento do que eliminá-lo.
Da responsabilidade individual à luta política coletiva
É imperativo que a questão da saúde do trabalhador transcenda a esfera do problema individual e seja tratada como uma questão pública, social e, fundamentalmente, política. O adoecimento no trabalho não é uma falha do trabalhador, mas um sintoma de um sistema doente. As empresas não podem continuar a extrair a saúde de seus funcionários e a devolver indivíduos adoecidos para a sociedade arcar com as consequências.
Antunes (2018) enfatiza que “a luta pela humanização do trabalho é, simultaneamente, uma luta pela humanização da vida” [1]. O autor defende que a resistência deve se dar tanto no plano imediato, através da organização sindical e da luta por direitos, quanto no plano estratégico, questionando a própria lógica do sistema capitalista.
A luta por melhores condições de trabalho e salário, pauta histórica do movimento sindical, deve incorporar com centralidade a defesa de um meio ambiente de trabalho saudável. É preciso elevar o debate, questionando a própria gestão e organização do trabalho impostas pela lógica capitalista. Como alerta Antunes, “sem uma crítica radical ao modo de produção capitalista, as conquistas parciais serão sempre limitadas e reversíveis” [1].
Enquanto a busca por lucro continuar a se sobrepor ao direito a uma vida digna, o ambiente de trabalho permanecerá sendo um espaço de produção de doença e morte. A conscientização e a organização coletiva são as ferramentas essenciais para forçar uma mudança estrutural, defendendo que a vida e a saúde dos trabalhadores não são recursos a serem otimizados, mas valores inegociáveis. Como conclui Antunes, “a emancipação do trabalho é condição sine qua non para a emancipação humana” [1].
Assista ao vídeo Capitalismo: adoecimento e morte.
Referências
[1] ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
Leandro do Erre é mestrando em Sociologia e Ciência Política na PUCRS e responsável pelo canal no YouTube “A questão política”. Redes Sociais: X: @leandrodoerre Facebook: Leandro do Erre
DM TEM DEBATE
https://www.dmtemdebate.com.br/o-capitalismo-como-modo-de-producao-de-doencas-e-morte/

por NCSTPR | 10/09/25 | Ultimas Notícias
A presença das mulheres no mercado de trabalho brasileiro aumentou nas últimas décadas, mas as desigualdades de gênero seguem profundas. Muitas trabalhadoras enfrentam uma dupla vulnerabilidade: a precarização das relações laborais e a persistência da discriminação baseada em seu gênero. Esse cenário é especialmente grave nos casos de assédio sexual, que continuam sendo subnotificados, mal compreendidos e, muitas vezes, invisibilizados pelo sistema de justiça.
Apesar de o assédio sexual estar tipificado no Código Penal desde 2001, são raros os casos que chegam ao Judiciário com julgamento favorável às vítimas. O principal entrave está na exigência de provas diretas — algo difícil de se produzir em situações que geralmente ocorrem sem testemunhas. O medo de retaliação, a vergonha e a falta de acolhimento institucional contribuem para o silêncio de muitas mulheres.
Diante dessa realidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou, em 2021, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O documento orienta juízes e juízas a levarem em consideração as desigualdades estruturais nos casos que envolvem mulheres, com o objetivo de garantir decisões mais justas e sensíveis às dinâmicas da violência de gênero. Em 2023, o CNJ reforçou essas diretrizes com a Resolução 492.
Embora o Protocolo seja uma recomendação e não uma obrigação, ele representa um importante avanço institucional. No entanto, sua aplicação ainda é limitada e desigual entre os tribunais. Em muitas decisões, persiste a tendência de julgar com base em estereótipos ou critérios tradicionais que desconsideram o contexto de vulnerabilidade da mulher trabalhadora.
Este artigo analisa como o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), na Bahia, tem utilizado — ou não — o Protocolo em julgamentos de casos de assédio sexual. A ideia é entender se a criação dessa ferramenta tem realmente provocado mudanças na prática judicial ou se continua apenas como uma diretriz formal, pouco integrada ao cotidiano dos tribunais.
Os primeiros dados sugerem que, apesar do discurso institucional de proteção, há uma distância significativa entre o que o Protocolo propõe e o que efetivamente se vê nas decisões. A persistência de exigências probatórias elevadas e a falta de sensibilidade nos julgamentos mostram que o Judiciário ainda precisa avançar muito para garantir justiça às mulheres vítimas de assédio no trabalho.
Esse olhar diferenciado é especialmente importante nos casos de assédio e violência no ambiente profissional, onde os impactos físicos, emocionais e econômicos são profundos. O Protocolo, elaborado pelo CNJ, estrutura sua proposta em quatro eixos — desigualdades, discriminações, assédios/violências e segurança/saúde no trabalho — e destaca que a Justiça do Trabalho deve considerar os contextos de poder e vulnerabilidade nos quais esses conflitos ocorrem.
Esse esforço se conecta a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção CEDAW da ONU e a Convenção 190 da OIT, que reforçam o dever do Estado de combater todas as formas de discriminação e garantir acesso efetivo à justiça.
Estudos mostram que a atuação de juízes e juízas ainda carrega estereótipos de gênero que influenciam a avaliação de provas e a própria credibilidade das vítimas. Por isso, a Recomendação Geral n. 33 da CEDAW defende que o acesso das mulheres à justiça não seja prejudicado por padrões culturais discriminatórios. A Recomendação n. 35 vai além e afirma que os Estados são responsáveis não só pelos atos diretos de seus agentes, mas também por omissões que permitam a perpetuação da violência de gênero. Assim, garantir julgamentos imparciais e sensíveis é uma obrigação jurídica e ética dos tribunais.
Nesse sentido, o recente protocolo publicado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho reafirma que aplicar a perspectiva de gênero não é contrariar a imparcialidade judicial, mas sim adotar uma metodologia capaz de reconhecer desigualdades concretas. A proposta busca tornar o processo mais justo desde a fase inicial da reclamação até a decisão final. A igualdade formal, embora importante, é insuficiente. A promoção da igualdade real exige reconhecer a hipossuficiência das trabalhadoras e enfrentar os estereótipos que ainda operam no cotidiano da Justiça.
Para entender como o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero tem sido aplicado na Justiça do Trabalho, especialmente em casos de assédio sexual contra mulheres, esta pesquisa analisou todas as decisões proferidas em 2024 pelo TRT5. O objetivo foi verificar a aderência prática às diretrizes do CNJ, especialmente após a publicação da Resolução CNJ 254/2023 e do Protocolo TST/CSJT de 2024.
A investigação teve início com a avaliação de ferramentas já disponíveis para o monitoramento de julgados trabalhistas, como o Banco de Decisões Judiciais do CNJ e o Monitor do Trabalho Decente, este último desenvolvido pelo SmartLab da Justiça do Trabalho.
No entanto, constatou-se que essas plataformas, embora promissoras, ainda apresentam limitações: o banco do CNJ carece de abrangência e não permite saber quantas decisões deixaram de aplicar o Protocolo; já o Monitor ainda está em fase experimental e teve, durante os testes, um índice de acerto de 80%, o que compromete sua confiabilidade.
Diante disso, a equipe optou por realizar uma busca direta e exaustiva no repositório oficial do TRT5, o Sistema Falcão. Foram utilizados os seguintes filtros: decisões publicadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, apenas acórdãos (decisões colegiadas), contendo o termo “assédio sexual” no corpo do texto, com abrangência limitada à 5ª Região. Essa busca resultou em 169 documentos inicialmente identificados.
Em seguida, foi realizada uma triagem rigorosa, dividida em cinco etapas: (1) exclusão de documentos duplicados ou com erros de indexação; (2) exclusão de decisões de natureza administrativa; (3) eliminação de acórdãos que tratavam de assédio moral, mas não sexual; (4) exclusão de casos em que a parte autora não era mulher; e (5) exclusão de decisões interlocutórias que não analisavam o mérito. Ao final, restaram 33 acórdãos válidos para análise qualitativa e quantitativa: 30 eram ações individuais ajuizadas por trabalhadoras, e 3 eram ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).
Do total de 33 acórdãos, 26 resultaram no reconhecimento do assédio sexual e condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais (procedência total ou parcial dos pedidos), representando 78,79% dos casos analisados. Os 7 restantes foram julgados improcedentes, seja por ausência de provas, seja por desclassificação da conduta como assédio sexual.
Dentre as ações individuais, as autoras eram majoritariamente mulheres negras em ocupações subalternas — como auxiliares de serviços gerais, recepcionistas, operadoras de caixa e atendentes —, o que reflete a interseção entre gênero, classe e raça na configuração da violência.
Chama atenção o fato de que apenas 9 dos 33 acórdãos analisados (27,27%) fizeram menção explícita ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Os 24 restantes (72,73%) decidiram sem qualquer referência ao documento ou às diretrizes de julgamento sensível ao gênero. Essa subutilização do Protocolo foi observada em todas as turmas do tribunal: por exemplo, a 5ª Turma julgou quatro ações, todas procedentes, mas nenhuma delas aplicou o Protocolo; a 3ª Turma, por sua vez, aplicou o Protocolo em apenas uma das seis ações julgadas.
Quando o Protocolo foi aplicado, os resultados foram significativamente mais favoráveis às vítimas: todos os 9 casos em que ele foi utilizado terminaram com condenação dos réus — ou seja, 100% de procedência. Já entre os 24 casos em que o Protocolo não foi utilizado, 17 resultaram em procedência e 7 em improcedência, o que representa uma taxa de sucesso de 70,83%. A diferença é expressiva e aponta para a eficácia do Protocolo como instrumento de correção das assimetrias que afetam a palavra e a posição processual da vítima nos litígios trabalhistas.
Do ponto de vista qualitativo, os acórdãos que aplicaram o Protocolo demonstraram maior atenção à dificuldade probatória típica de casos de assédio sexual, valorizando provas indiretas e testemunhos, bem como levando em consideração o contexto de vulnerabilidade da vítima. Já nas decisões que não o aplicaram, foi comum a exigência de provas diretas ou o uso de padrões excessivamente formais para o juízo de credibilidade da vítima, muitas vezes desconsiderando os efeitos psicológicos e sociais da violência.
Esses dados revelam não apenas uma subutilização do Protocolo no TRT5, mas também sua capacidade concreta de promover julgamentos mais justos e sensíveis às desigualdades de gênero. A pesquisa aponta que o Protocolo ainda precisa ser melhor difundido entre magistrados e incorporado de forma mais sistemática na cultura decisória da Justiça do Trabalho. Sua aplicação não compromete a imparcialidade, mas fortalece o compromisso constitucional com a igualdade material e o acesso efetivo à justiça.
As experiências de assédio sexual no ambiente de trabalho revelam uma desigualdade estrutural marcada por gênero, classe e raça. As mulheres, especialmente em ocupações mais precarizadas, enfrentam uma realidade em que o medo da demissão, a vergonha e a sensação de impotência dificultam a denúncia.
O baixo número de ações judiciais movidas por vítimas — apenas 33 processos no TRT5 durante todo o ano de 2024 — indica que a maior parte dos casos segue invisibilizada, o que contribui para a impunidade dos agressores e a perpetuação do problema. A comparação com os homens é ilustrativa: apenas 5 ações foram ajuizadas por trabalhadores do sexo masculino, o que demonstra o recorte de gênero do fenômeno.
Esse silêncio é alimentado por estereótipos que colocam em dúvida a palavra da mulher. Em muitos julgamentos, ainda se exige da vítima uma prova quase impossível: testemunhos diretos ou evidências cabais sobre fatos que, na maioria das vezes, ocorrem em ambientes fechados e longe dos olhos de terceiros.
Nesses casos, a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero se mostra essencial, pois orienta os juízes a valorarem indícios e contextos, reconhecendo a natureza oculta da violência sexual. Como afirmou o desembargador Rubem Dias, é preciso considerar uma “constelação de indícios” para compreender esses casos com justiça.
A pesquisa demonstrou que, quando o Protocolo é aplicado, há impactos reais nos resultados. Todas as ações em que ele foi utilizado resultaram em condenação, o que confirma sua eficácia como ferramenta de enfrentamento à desigualdade.
Ainda assim, ele foi mencionado em apenas 27,27% dos acórdãos analisados. Isso revela que sua adoção segue dependendo da iniciativa individual de juízes e juízas, e não de uma política institucional consolidada. A diferença entre as turmas do TRT5 — algumas mais sensíveis ao tema, outras completamente alheias ao Protocolo — aponta para a necessidade de formação continuada e integração do documento às rotinas processuais.
Concluir que o Protocolo é útil, mas pouco utilizado, não basta. É preciso transformar esse instrumento em prática cotidiana, com respaldo das corregedorias, comissões de gênero e instâncias administrativas dos tribunais. O caminho para uma Justiça do Trabalho verdadeiramente igualitária não passa apenas pela criação de normas, mas pela coragem de romper com padrões de julgamento que reproduzem a desigualdade.
O Protocolo oferece uma oportunidade concreta de mudança — mas, para que produza efeitos reais, deve deixar de ser visto como uma diretriz opcional e passar a ser entendido como compromisso ético e jurídico com a dignidade das trabalhadoras.
Ana Terra Borges Antunes Ribeiro é mestre em Direito pelo PPGD da Universidade Católica do Salvador. Professora de Direito e Processo do Trabalho. Advogada trabalhista.
Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho é procurador federal em exercício na Procuradoria Federal do Inep, doutor em Direito, Estado e Constituição pela UnB, com doutorado sanduíche na Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica do Salvador e líder do grupo de pesquisa Constituição, Política e Instituições Judiciais/CPIJ (DGP/CNPq)
DM TEM DEBATE
https://www.dmtemdebate.com.br/por-que-o-genero-importa/